Desde seus primórdios, o capitalismo tem sido um sistema assolado por crises. Como observou Trotsky, ele atravessa ciclos de auge e queda com a mesma naturalidade com que o corpo humano inspira e expira. Mas qual é a verdadeira natureza da crise do capitalismo? Essa questão tem sido debatida há muito tempo em círculos marxistas e, muitas vezes, deu lugar a disputas e divisões entre facções. No entanto, não se trata de um mistério insolúvel.
Marx e Engels foram os primeiros a refutar cientificamente a chamada “Lei de Say” da economia clássica – que afirmava que a produção de bens gera automaticamente sua própria demanda – e a demonstrar a inevitabilidade da superprodução no capitalismo. Essa tendência surge da contradição fundamental entre a produção social e a apropriação privada, ou, em outras palavras, entre as forças produtivas e as relações de produção. Em uma análise mais detalhada, encontra-se enraizada na natureza contraditória da própria mercadoria.
Marx criticou duramente os economistas burgueses que negavam a possibilidade de superprodução com o argumento de que todo vendedor deve necessariamente ter um comprador. Como assinalou Marx, que “toda venda implica uma compra” é uma tautologia, uma mera definição de intercâmbio. Certamente, “ninguém pode vender a menos que outro compre. Mas ninguém está imediatamente obrigado a comprar só porque vendeu”. O dinheiro obtido de uma venda pode ser acumulado em vez de gasto, e isso por si só já torna possível a superprodução e a crise.
Mas Marx foi além. Explicou que a reinversão dos capitalistas em novas plantas, maquinário ou força de trabalho depende inteiramente da rentabilidade.
Se o problema fosse tão simples quanto a superprodução, Marx e Engels não teriam passado a vida analisando o capitalismo em milhares de páginas. Afinal, eles já haviam identificado a tendência do capitalismo à superprodução no Manifesto Comunista. Marx, no entanto, continuou trabalhando em O Capital até seus últimos dias. Os volumes II e III foram publicados por Engels após a morte de Marx, enquanto Teorias da Mais-Valia – considerado o volume IV – foi publicado de forma incompleta após o falecimento de Engels.
A tendência à superprodução é inerente ao capitalismo. No entanto, representa apenas um aspecto de sua crise mais profunda e prolongada. Reduzir o problema a uma mera “crise de superprodução” é uma simplificação excessiva. Não apenas oferece uma visão parcial, mas também não explica muitos fenômenos políticos e econômicos. Em última instância, essa interpretação conduz ao reformismo keynesiano, isto é, a injetar dinheiro na economia para impulsionar a demanda e assim vender os bens e serviços superproduzidos.
Nesse sentido, o terceiro volume de O Capital é crucial. Seu tema central é a força motriz do capitalismo – o lucro – e a medida decisiva que está na base de inúmeros indicadores econômicos: a taxa de lucro. Em poucas palavras, a análise de Marx sobre a obtenção de lucros em todas as suas dimensões o levou a formular uma teoria integral das crises: a “lei da tendência decrescente da taxa de lucro”. Os economistas clássicos já haviam observado que a rentabilidade tende a diminuir no longo prazo, mas não possuíam os meios para compreendê-la plenamente.
Marx demonstrou que a rentabilidade da produção capitalista não é estável. Está sujeita a uma inevitável pressão para baixo. A dinâmica da concorrência no mercado acaba forçando os capitalistas a sobreinvestir (ou sobreacumular) em relação aos lucros que podem extrair da classe trabalhadora. Em certo ponto, a sobreacumulação em relação aos lucros – isto é, uma taxa de lucro decrescente – faz com que a massa total de lucros deixe de crescer. Quando isso acontece, os capitalistas deixam de investir e produzir, o que conduz à superprodução ou a uma crise capitalista. No entanto, uma taxa de lucro decrescente não desencadeia por si só uma crise enquanto a massa de lucros continuar crescendo.
Evidente que a produção excessiva pode ocorrer em setores específicos, criando crises parciais a partir de uma produção desproporcional. Essas, em certas ocasiões, podem causar graves perturbações sistêmicas. No entanto, no que se refere à crise geral e histórica do capitalismo, o limite decisivo da produção é o lucro do capitalista. A acumulação, portanto, não é determinada diretamente pela taxa de mais-valia, mas pela relação entre esta e o dispêndio total de capital – ou seja, a taxa de lucro – e, ainda mais decisivamente, pela massa total de lucros. Uma taxa de lucro decrescente reflete essencialmente uma superprodução de capital fixo.
É verdade que a taxa de lucro pode diminuir enquanto a massa de lucros continua aumentando. De fato, a taxa de lucro pode cair de forma tão gradual que a economia se expanda durante anos apesar dessa tendência. Mas essas condições não podem perdurar indefinidamente.
O ponto básico pode ser resumido assim: sob o capitalismo, existe uma tendência inerente de que a proporção de capital constante (máquinas, computadores, robôs, ferramentas e, hoje em dia, inteligência artificial) cresça em relação ao capital variável, isto é, a força de trabalho humana, no processo de produção. Isso gera o que Marx chamou de “superprodução de capital”, mais precisamente uma “sobreacumulação”, ou o que também descreveu como uma “abundância de capital”. Passado certo ponto, os capitalistas não conseguem empregar esse capital acumulado de forma rentável. Em outras palavras, a mais-valia produzida torna-se insuficiente em relação ao investimento total e a taxa de lucro cai. Durante esses períodos, a taxa de lucro pode diminuir enquanto os lucros totais continuam crescendo. Mas, com o tempo, a massa de lucros começa a diminuir. Nesse estágio, a crise explode: o investimento é interrompido, a produção colapsa, a economia se contrai, os empregos desaparecem e os salários são reduzidos. Isso diminui a “demanda efetiva” no mercado. Os estoques se acumulam, os bens e a capacidade produtiva existem, mas os compradores não; daí a superprodução.
Inevitavelmente, esse processo se expressa no setor financeiro, no imobiliário e no mercado de ações, onde estouram bolhas especulativas que vinham sendo infladas por longos períodos. Vimos essa dinâmica se desenrolar na crise financeira de 2008.
Assim, a superprodução de bens é inseparável da superprodução de capital. Como disse Marx: “A superprodução de capital sempre inclui a superprodução de bens”.
Como o capitalismo emerge dessas crises? Paradoxalmente, as próprias condições da crise criam a possibilidade de recuperação. As falências eliminam ou desvalorizam grandes quantidades de capital “excedente” em um processo denominado “destruição criativa”. Os preços dos meios de produção (capital constante) caem. O desemprego reduz os salários. Dessa forma, o investimento volta a ser rentável e o ciclo de acumulação é retomado.
As grandes guerras também podem fornecer um caminho para a “recuperação”, ainda que de uma maneira muito mais destrutiva e sangrenta, através dos mesmos mecanismos.
Mesmo em condições relativamente pacíficas, existem forças compensatórias que contrabalançam temporariamente a tendência de queda da taxa de lucro. Entre elas estão a intensificação da exploração dos trabalhadores por meio da repressão sindical, das demissões e da supressão salarial. A inovação tecnológica reduz o custo do capital constante, o que contribui para manter a rentabilidade. Além disso, os Estados capitalistas são obrigados a adotar políticas que elevam as margens de lucro, contrariando assim artificialmente a tendência de queda da taxa de lucro. A privatização transforma os serviços públicos em espaços de lucro, enquanto novas indústrias surgem dos avanços tecnológicos. A destruição do meio ambiente, a expansão imperialista e a conquista de mercados, recursos e mão de obra barata também contribuem para esse propósito. A desregulamentação e as isenções fiscais para os capitalistas se impõem às custas dos trabalhadores, frequentemente por meio da austeridade, deslocando a carga tributária para baixo, cortando drasticamente programas de bem-estar social ou vendendo-os ao capital privado.
O neoliberalismo foi, essencialmente, um projeto em grande escala para reforçar essas tendências compensatórias, com o objetivo de restabelecer a rentabilidade.
No entanto, a longo prazo, a tendência de queda da taxa de lucro se reafirma. A margem de recuperação se reduz e as crises se agravam. A história confirmou a previsão do Manifesto Comunista, décadas antes da redação de O Capital.
À luz do exposto, não é difícil perceber que os principais problemas socioeconômicos do capitalismo derivam da crise de rentabilidade. A baixa rentabilidade se traduz inevitavelmente em baixo investimento, crescimento lento, fraca criação de empregos e deterioração do nível de vida. Também enfraquece a capacidade do Estado de tributar a classe capitalista, o que leva à queda da arrecadação, ao aumento do déficit, ao crescimento da dívida e aos cortes de austeridade. De fato, todos esses processos estão dialeticamente entrelaçados, reforçando-se mutuamente e, assim, aprofundando a crise geral.
A seguir, veremos como o capitalismo contemporâneo, particularmente em suas formas avançadas, encontra-se preso em processos derivados de sua crise orgânica.
Crescimento: do auge ao estancamento
A Segunda Guerra Mundial deu um novo impulso ao capitalismo por meio de vastas economias de guerra e uma destruição sem precedentes, mas as contradições fundamentais do sistema persistiram. A análise das taxas de crescimento do pós-guerra deixa isso claro.
Existe um amplo debate entre os economistas marxistas sobre a evidência empírica relativa à TDTG. Consideramos muito úteis os dados do blog de Michael Roberts, especialmente os dados baseados no banco de dados de Basu Wasner, que resumem as tendências e os pontos de inflexão da evolução da taxa de lucro deflacionada das economias do G20, constituindo uma base essencial para a periodização do pós-guerra e a análise das perspectivas econômicas atuais.
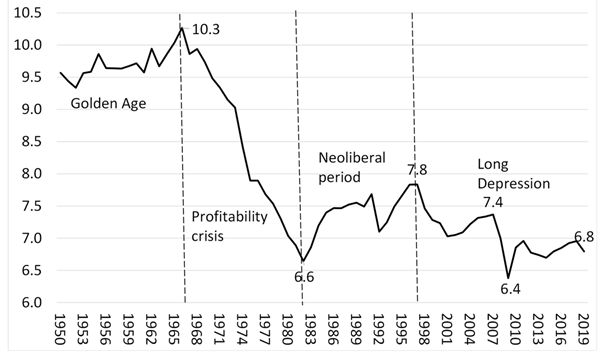
É bastante evidente que a curva apresenta altos e baixos: (1) o crescimento excepcional da taxa de lucro no pós-guerra imediato até meados dos anos 1960; (2) uma forte queda até o início dos anos 1980; (3) a recuperação de uma tendência ascendente da taxa de lucro nos anos 1980 e 1990; (4) uma nova queda desde o início dos anos 2000, embora partindo de um nível muito mais baixo e, portanto, não tão acentuada como em torno de 1970.
O pós-guerra foi possível graças às terríveis derrotas do movimento operário (o fascismo, a solução reacionária do período revolucionário do pós-guerra, a integração dos sindicatos, da social-democracia e do stalinismo à ordem capitalista do pós-guerra), à destruição massiva de capital (não apenas física, devido à guerra, mas também pelos efeitos da crise econômica associada a ela até o final da década de 1940) e à resolução decisiva da disputa pela repartição do mundo entre as potências imperialistas, com os Estados Unidos se tornando a potência hegemônica global e garantidora do mercado mundial, e o dólar assumindo o papel de moeda mundial.
Embora a taxa de lucro já tenha começado a cair na década de 1960, e isso já se refletisse nas turbulências dos mercados de capitais, os limites ao crescimento da massa absoluta de lucros foram sentidos nos principais países imperialistas, primeiro nas tendências recessivas do início da década de 1970. Tornou-se evidente que o “longo boom” havia chegado ao fim e, com ele, as ilusões de “cooperação social” e de um Estado de bem-estar em expansão. A maioria dos governos da época tentou contrabalançar os ciclos recessivos com o aumento dos gastos públicos, financiados por meio da ampliação da dívida pública. Esse período foi caracterizado por uma crise estrutural de rentabilidade, como demonstram a crise do preço do petróleo e o colapso do sistema de Bretton Woods.
Por volta de 1980, o núcleo da burguesia imperialista ocidental, especialmente nos Estados Unidos e na Grã-Bretanha, decidiu uma mudança fundamental na sua gestão da crise, que posteriormente ficaria conhecida como uma virada em direção ao “neoliberalismo”. Isso incluiu não apenas ataques massivos às conquistas e organizações da classe trabalhadora, como os promovidos pelos governos de Reagan e Thatcher, mas também o início de ciclos intermináveis de políticas de austeridade. No centro dessa mudança encontrava-se o chamado “choque Volcker”, símbolo do aumento maciço da taxa básica de juros e da consequente crise da dívida.
Duas recessões seguiram-se imediatamente na década de 1980, aumentando a taxa de desemprego, mas também pondo fim à era da inflação. O consequente default das dívidas empresariais, o colapso das caixas de poupança, a insolvência das grandes corporações etc. levaram a uma destruição de capital de centenas de bilhões de dólares (estima-se que cerca de um quinto do capital social tenha se tornado inoperante no início da década de 1980). Além disso, a maioria dos países com elevados níveis de endividamento em dólares (devido às taxas de juros mais altas e à valorização do dólar) entrou necessariamente em uma grave crise da dívida.
O novo modelo de crescimento iniciado com a virada neoliberal do início da década de 1980 passou a ser denominado “período da globalização”. A alavancagem da reestruturação da dívida, a virada neoliberal global e o colapso do bloco de Estados operários degenerados permitiram uma maior abertura dos mercados ao capital de investimento global. Isso impulsionou a construção cada vez mais sofisticada de cadeias globais de produção, baseadas em um acesso favorável a matérias-primas e a mão de obra barata e qualificada em escala mundial. Outra característica do auge da globalização foi a nova dimensão das finanças, especialmente dos mercados globais de capitais. Baseada na liberalização dos fluxos financeiros internacionais e das regulações de investimento, a acumulação de capital financeiro de todo o mundo e sua aplicação global permitiram mobilizar capital de investimento em uma magnitude sem precedentes. A reintegração do capital na Europa Oriental, na União Soviética e na China a partir de 1990 foi, sem dúvida, um fator importante nesse novo modelo de crescimento.
O auge da globalização chocou-se com os limites fundamentais da acumulação de capital. Mesmo em um nível global mais elevado, a crescente massa de capital enfrentou uma mais-valia limitada, o que levou as taxas de lucro a voltarem a cair no início do século. O aumento dos custos de transporte e logística, a expansão dos setores de serviços e o peso crescente das expectativas do mercado financeiro reforçaram essa tendência. As primeiras crises na Rússia e na Ásia, bem como o colapso das empresas ponto-com, revelaram problemas no motor da globalização.
Embora o crescimento chinês e a expansão financeira tenham prolongado o crescimento, a queda da rentabilidade tornou inevitável uma crise, que desta vez explodiu no setor financeiro. A queda dos preços imobiliários desencadeou um colapso massivo da dívida e do valor dos ativos. O colapso das instituições financeiras em 2007 provocou uma crise de crédito e uma queda no financiamento do investimento, culminando na profunda recessão mundial de 2008–2009, posteriormente denominada “Grande Recessão”. Esse quase colapso do capitalismo marcou o período até a crise seguinte de grande magnitude: a recessão mundial provocada pela pandemia.
O histórico do Japão é ainda mais desolador: de um crescimento anual de 8-10% até 1973, sua economia mal conseguiu se manter acima de zero desde 2008.
A desaceleração fica ainda mais evidente se compararmos os 15 anos anteriores e posteriores à crise de 2008. As taxas de crescimento anual médio das principais economias diminuíram da seguinte forma (1993-2007 vs. 2009-2023):
- Alemanha: 1,4% → 0,9%
- França: 2,0% → 0,9%
- Reino Unido: 2,7% → 1,2%
- Eurozona em geral: 2,0% → 0,9%
- Japão: 1,0% → 0,4%
- EUA: 3,0% → 2,0%
- Mundo árabe: 4,4% → 2,5%
Segundo o Banco Mundial, projeta-se que o crescimento do PIB mundial seja, em média, de apenas 2,5% na década de 2020, o ritmo mais lento desde a década de 1960. Da mesma forma, a OCDE alerta que a economia mundial está entrando em seu período de crescimento mais fraco desde a crise da COVID-19: “O enfraquecimento das perspectivas econômicas será sentido em todo o mundo, praticamente sem exceção”.
A OCDE prevê uma forte desaceleração do crescimento nos EUA, de 2,8% em 2024 para 1,6% em 2025 e 1,5% em 2026, enquanto a inflação se aproxima de 4%, permanecendo acima da meta do Federal Reserve e impedindo cortes nas taxas de juros que poderiam aliviar o peso da dívida das famílias e das pequenas empresas.
O Banco Mundial enfatiza que essa desaceleração não é um fenômeno recente. O crescimento nas economias em desenvolvimento tem diminuído ao longo de três décadas consecutivas: de 5,9% na década de 2000 para 5,1% na década de 2010 e para 3,7% no que vai da década de 2020. Isso reflete a trajetória descendente do crescimento do comércio mundial (5,1% → 4,6% → 2,6%). O investimento também enfraqueceu, enquanto a dívida se acumulou.
O FMI, em sua atualização de julho, elevou ligeiramente as previsões de crescimento mundial para 3,0% em 2025 e 3,1% em 2026, citando a antecipação de cortes tarifários, a expansão fiscal e a melhora das condições financeiras. Ainda assim, alerta para riscos persistentes: aumento das tarifas, tensões geopolíticas e incerteza constante.
As previsões para 2025-26 incluem:
- EUA: 1,9% (2025), 2,0% (2026)
- Eurozona: 1,0%, 1,2%
- Reino Unido: 1,2%, 1,4%
- China: 4,8%, 4,2%
- Japão: 0,7%, 0,5%
Em meados de 2025, o PIB da Alemanha e da Itália caiu -0,1% no segundo trimestre, enquanto a França cresceu apenas 0,3%. O crescimento geral da eurozona foi de apenas 0,1% em relação ao trimestre anterior, com desaceleração interanual de 1,5% no primeiro trimestre para 1,4%. As principais economias da eurozona encontram-se estagnadas ou em recessão, e apenas algumas economias periféricas, como a Espanha, apresentam desempenho relativamente melhor.
Enquanto isso, os dados dos EUA para o segundo trimestre de 2025 mostraram um aumento trimestral de 0,7% (anualizado em 3,0%), acima das previsões. Trump celebrou o resultado, mas o aumento se deveu em grande parte a uma forte queda de 30% nas importações após a entrada em vigor dos aumentos tarifários. Isso impulsionou o comércio líquido, inflando o PIB. Excluindo os efeitos do comércio, as vendas finais reais para compradores privados domésticos aumentaram apenas 1,2%, contra 1,9% no primeiro trimestre.
O investimento também desacelerou drasticamente: o investimento total cresceu apenas 0,4% no segundo trimestre, em comparação com 7,6% no primeiro trimestre. O investimento em equipamentos cresceu 4,8% frente aos 23,7% anteriores, enquanto o investimento em novas estruturas (fábricas, centros de dados, escritórios) caiu 10,3% após já ter diminuído 2,4% no primeiro trimestre. No geral, a economia estadunidense cresceu 2,0% em termos anuais no segundo trimestre, o mesmo ritmo do primeiro trimestre. Embora ainda tenha desempenho melhor que a eurozona e o Japão, seu ritmo de expansão é inferior à metade do da China.
A economia japonesa está mergulhada em um estancamento crônico. Contraiu-se no primeiro trimestre de 2025, e os dados comerciais apontam para nova contração no segundo trimestre, o que implica em recessão técnica. No melhor cenário, o Japão crescerá apenas 0,7% neste ano e 0,4% no próximo.
A OCDE observa que um longo período de baixo investimento agravou os desafios de longo prazo enfrentados pelas economias da OCDE, enfraquecendo ainda mais as perspectivas de crescimento. Apesar do aumento dos lucros, muitas empresas preferiram acumular ativos financeiros e devolver fundos aos acionistas em vez de investir em capital fixo.
O Banco Mundial acrescenta: “Os países mais pobres serão os mais afetados. Até 2027, o PIB per capita das economias de alta renda retornará aproximadamente à sua trajetória anterior à COVID-19. No entanto, as economias em desenvolvimento permanecerão 6% abaixo. Exceto pela China, a maioria levará duas décadas para recuperar as perdas da década de 2020”. Em outras palavras, as nações mais pobres do mundo não estão encurtando a distância, mas ficando ainda mais para trás. Mesmo segundo os já modestos indicadores do Banco Mundial, a pobreza está aumentando.
Austeridade: Uma Nova Normalidade
A austeridade, tal como a conhecemos hoje, surgiu com a ofensiva do neoliberalismo na década de 1980. No entanto, com o tempo adquiriu um caráter mais persistente e severo. Agora implica não apenas as medidas de austeridade interna impostas pelos Estados capitalistas, mas também o virtual fim das concessões e subsídios do Norte Global às regiões mais pobres do mundo, já devastadas por séculos de saque e exploradas pelo imperialismo.
Por exemplo, nos Estados Unidos, o presidente Trump reduziu drasticamente o financiamento e o quadro de pessoal da agência norte-americana de desenvolvimento, a USAID. Prevê-se que seu orçamento caia de 60 bilhões de dólares em 2024 para menos de 30 bilhões em 2026. Cortes semelhantes estão em andamento na Alemanha, no Reino Unido, na França e em outras economias avançadas, à medida que os governos redirecionam fundos para aumentos massivos dos gastos militares.
O Grupo dos Sete (G7), responsável por quase três quartos de toda a Ajuda Oficial ao Desenvolvimento (AOD), prepara-se para cortar os gastos com ajuda em 28% entre 2024 e 2026. Isso marcará a maior redução da ajuda desde a formação do G7 em 1975 e, na verdade, de toda a história da ajuda desde 1960. Até 2026, os níveis de ajuda do G7 podem despencar em 44 bilhões de dólares, caindo para apenas 112 bilhões. A maior parte dessa redução vem dos Estados Unidos (menos 33 bilhões de dólares), da Alemanha (menos 3,5 bilhões), do Reino Unido (menos 5 bilhões) e da França (menos 3 bilhões).
Os organismos internacionais soaram o alarme. A Oxfam alerta que esses cortes representam a maior redução da ajuda ao desenvolvimento desde 1960. Enquanto isso, a ONU destaca um assombroso déficit de 4 trilhões de dólares entre as necessidades mundiais de desenvolvimento sustentável e o financiamento real. O impacto na nutrição, por si só, é devastador: prevê-se que a ajuda mundial destinada à nutrição caia 44% até 2025 em comparação com 2022. O cancelamento de 128 milhões de dólares em programas de nutrição infantil financiados pelos EUA – que atendiam a um milhão de crianças – provocará 163.500 mortes infantis adicionais por ano.
Os sistemas de saúde dos países mais pobres também estão sob cerco. Um em cada cinco dólares de ajuda destinados aos orçamentos de saúde está sendo cortado ou corre risco de corte. Segundo a OMS, quase três quartos de seus escritórios nacionais relatam graves interrupções em seu funcionamento e, em cerca de um quarto desses países, já foi necessário fechar centros de saúde por completo. Os cortes à ajuda dos EUA podem resultar em até 3 milhões de mortes evitáveis por ano, com 95 milhões de pessoas perdendo acesso a cuidados médicos: crianças morrendo por doenças preveníveis por vacinação, mulheres grávidas sem atendimento materno e aumento das mortes por malária, tuberculose e HIV.
No âmbito nacional, o projeto de lei orçamentária de Trump propõe uma austeridade ainda maior. Ao longo da próxima década, pretende cortar quase 1 trilhão de dólares do Medicaid (o programa de saúde pública para famílias de baixa renda) e 500 bilhões de dólares da assistência alimentar e do Medicare (cobertura médica para idosos). Isso representa a maior redução já sofrida pela já frágil rede de segurança social norte-americana. As consequências são graves. Entre 12 e 17 milhões de pessoas podem perder seu seguro de saúde, enquanto 3 milhões correm risco de perder a assistência alimentar. Os hospitais da rede de segurança, especialmente em áreas rurais, reduzirão seus serviços ou fecharão completamente. Os cortes nos subsídios da Lei de Cuidados de Saúde Acessíveis aumentarão os gastos diretos das famílias, distribuindo o impacto entre todos os planos de seguro de saúde. Ao mesmo tempo, o projeto de lei torna permanentes os cortes de impostos de 2017, que beneficiam esmagadoramente os ricos. Estimativas mostram que, ao se considerar tanto os cortes de impostos quanto as reduções de programas, 20% das famílias mais pobres verão sua renda diminuir, enquanto o 0,01% mais rico desfrutará de ganhos médios de 301.550 dólares anuais.
A Europa conta uma história paralela. As políticas de austeridade implementadas em toda a UE desde 2009 deixaram os cidadãos, em média, com 3.000 euros a menos por ano, segundo um estudo da New Economics Foundation (NEF) e da Finance Watch. Os gastos públicos e com serviços sociais são 1.000 euros menores por pessoa do que teriam sido sem a austeridade. As consequências são particularmente graves em países como Irlanda e Espanha, onde as rendas médias caíram 29% e 25% abaixo das tendências anteriores a 2008. Mesmo em Estados mais ricos como Finlândia e Países Baixos, as rendas se mantêm entre 15% e 16% abaixo do previsto.
O relatório destaca o custo mais amplo: sem austeridade, o cidadão médio da UE teria hoje 2.891 euros a mais. Os governos teriam investido 533 bilhões de euros a mais em infraestrutura, incluindo energias renováveis e capacidade de fornecimento doméstico, protegendo as famílias dos atuais aumentos drásticos dos preços da energia. Os gastos com educação, saúde e assistência social também seriam 1.000 euros maiores por pessoa. Na realidade, a austeridade aprofundou as recessões em vez de aliviá-las. Enfraqueceu as redes de proteção social, erodiu o padrão de vida, retardou a recuperação e, sobretudo, infligiu um dano desproporcional aos mais vulneráveis: os pobres, os jovens, as famílias e as populações que dependem da assistência médica.
Dívida: O peso sufocante do tempo emprestado
A economia mundial está sendo esmagada por uma enorme carga de dívida, o que reflete como as medidas temporárias para mitigar crises e os métodos artificiais para lidar com os gargalos do sistema tornaram-se permanentes e foram normalizados. A dívida mundial se aproxima de 300% do PIB global, um nível perigosamente alto. Nos poucos anos após a COVID-19, a dívida aumentou 43%, uma tendência insustentável.
Além disso, o aumento das taxas de juros após a COVID-19 agravou a crise da dívida na maioria dos países do Terceiro Mundo. O Paquistão sofre com essa situação há anos, e o caso do Sri Lanka é bem conhecido. Segundo as Nações Unidas, 52 países em desenvolvimento enfrentam uma crise da dívida, dos quais 40% correm o risco de dar calote. Esses países gastam mais com o pagamento de juros do que com saúde ou educação.
Se as guerras comerciais mundiais se intensificarem, tanto a inflação quanto as taxas de juros aumentarão, o que pode causar crises semelhantes às do Sri Lanka ou de Bangladesh em muitos outros países.
Nas chamadas economias emergentes (excluindo a China), a dívida total disparou para 126% do PIB. O saldo da dívida externa dos países mais pobres atingiu o valor sem precedentes de 8,8 trilhões de dólares em 2023, representando um aumento de 2,4% em relação ao ano anterior.
O que é particularmente alarmante é que os pagamentos da dívida agora superam as novas entradas de crédito e capital. Em 2023, os países de renda baixa e média (excluindo a China) sofreram uma saída líquida de 30 bilhões de dólares para o setor privado em dívida de longo prazo, o que representa um grave peso para o desenvolvimento. Desde 2022, credores privados estrangeiros extraíram 141 bilhões de dólares a mais em pagamentos do serviço da dívida de mutuários do setor público em economias em desenvolvimento do que desembolsaram em novos financiamentos. Por dois anos consecutivos, os credores externos levaram mais do que forneceram.
O custo total do serviço da dívida (principal mais juros) de todos os países de renda baixa e média atingiu o recorde de 1,4 trilhão de dólares em 2023. Excluindo a China, o valor foi de 971 bilhões de dólares, um aumento de 19,7% em relação ao ano anterior e mais do que o dobro do nível de uma década atrás.
O impacto social é devastador: 3,3 bilhões de pessoas vivem em países onde os pagamentos de juros superam os gastos em saúde, enquanto 2,7 bilhões vivem em países onde o custo do serviço da dívida ultrapassa os orçamentos de educação. Em média, o peso dos juros como percentual das receitas fiscais quase dobrou desde 2011 nos países em desenvolvimento.
Mesmo as economias avançadas estão se endividando cada vez mais. Nos Estados Unidos, o Comitê para um Orçamento Federal Responsável projeta que a dívida pública aumentará pelo menos 3,3 trilhões de dólares até 2034, elevando a relação dívida/PIB dos atuais 100% para 125%, bem acima dos 117% projetados pela legislação vigente. Também se prevê que os déficits anuais aumentem, chegando a 6,9% do PIB em 2034, em comparação com 6,4% em 2024.
O setor privado não está menos sobrecarregado. As empresas norte-americanas suportam atualmente a maior carga de dívida da história, com passivos que chegam a 487% de suas receitas. Nos últimos dois anos, as falências corporativas aumentaram 87%, superando os níveis observados durante a crise da COVID-19, resultado agravado pelas altas taxas de juros impostas para conter a inflação.
Desigualdade: Pirâmides de riqueza em meio a desertos de pobreza
A desigualdade econômica pode ser analisada em várias dimensões: desigualdade de renda (salários e lucros); de riqueza pessoal (ativos menos dívidas); de ativos de capital (propriedade de empresas e ações); de riqueza e renda entre países; e da desigualdade dentro dos próprios países. É importante destacar que a desigualdade é sempre relativa, não absoluta. Os níveis obscenos e alarmantes de desigualdade, em todas as suas formas, também revelam um profundo mau funcionamento do sistema.
Os países do chamado Sul Global não estão alcançando as nações imperialistas e ricas do Norte Global, seja medido pela renda per capita, pela produtividade ou por qualquer índice de desenvolvimento humano. Pelo contrário, as enormes desigualdades de renda e riqueza, tanto dentro dos países quanto entre eles, continuam se aprofundando.
Em 2023, a renda nacional média per capita mundial (incluindo o valor em espécie dos serviços públicos) foi de aproximadamente 12.800 € por ano (PPC), ou 1.065 € por mês. No entanto, isso oculta disparidades imensas: na África Subsaariana, a renda média era de apenas 240 € por mês, em comparação com mais de 3.500 € na América do Norte e na Oceania — uma proporção de 1 para 15. O produto anual per capita nos Estados Unidos alcançou 73.000 dólares, aproximadamente 26 vezes mais do que nos países de baixa renda. Mesmo economias de renda médio-baixa como Índia, Nigéria e Filipinas produzem apenas cerca de um nono do produto per capita dos EUA.
O rápido crescimento em algumas partes da Ásia, especialmente na China e na Índia, retirou muitos da pobreza extrema. No entanto, segundo o Relatório Mundial sobre Desigualdade, o 0,1% e o 1% mais ricos do mundo capturaram uma fatia enormemente desproporcional dos lucros. Em 2020, o 1% mais rico recebeu 20,6% da renda mundial, um aumento de 2,8 pontos percentuais desde 1980. O 0,1% mais rico, sozinho, embolsou 8,59% da renda, quase dois pontos percentuais a mais do que em 1980.
A China desenvolveu rapidamente sua própria elite rica, mas, apesar de ter uma população mais de quatro vezes maior que a dos Estados Unidos, este país ainda tem 4,8 vezes mais pessoas com um alto patrimônio líquido.
A pirâmide da riqueza global sublinha os extremos:
Apenas 60 milhões de adultos (1,6% dos adultos do mundo) possuem 226 trilhões de dólares, o que equivale a 48,1% de toda a riqueza pessoal.
No outro extremo, 1,57 bilhão de adultos (41% dos adultos do mundo) possuem em conjunto apenas 2,7 trilhões de dólares, ou 0,6% da riqueza pessoal mundial. O 1% mais rico do mundo ainda detém cerca de 42% de toda a riqueza pessoal, sem mudanças desde 1995.
Somando-se os estratos médios, 3,1 bilhões de adultos (82% da população mundial) possuem apenas 61 trilhões de dólares, ou 12,7% de toda a riqueza. Os 87,3% restantes concentram-se nas mãos de 680 milhões de pessoas, apenas 18,2% da população adulta mundial.
As disparidades regionais continuam marcantes. Em 2024, a riqueza pessoal aumentou no Leste Europeu (a partir de um nível baixo) e na América do Norte, mas diminuiu na América Latina, Europa Ocidental e Oceania. A riqueza média dos lares na Grã-Bretanha caiu 3,6%, a segunda maior queda entre as principais economias. A riqueza pessoal média por adulto na América do Norte é seis vezes maior que na China, 12 vezes maior que no Leste Europeu e quase 20 vezes maior que na América Latina.
A desigualdade global na riqueza pessoal piorou desde o início do século XXI. A África do Sul, mesmo após o apartheid, continua sendo o país mais desigual em termos de distribuição de riqueza (medida pelo coeficiente de Gini), seguida de perto pelo Brasil. O coeficiente de Gini piorou em muitas regiões durante a “Longa Depressão” desde 2008. Entre as nações capitalistas avançadas, a Suécia surpreendentemente aparece tão desigual quanto os Estados Unidos. O capitalismo, seja neoliberal ou social-democrata, produz a mesma concentração de riqueza.
No entanto, os Estados Unidos se destacam como a economia mais desigual do G7. A magnitude da desigualdade estadunidense é impressionante. Para ilustrar:
- 100 mil dólares em notas de 100 formam uma pilha de 10,9 cm.
- 1 milhão de dólares equivale a 109,5 cm.
- 1 bilhão de dólares forma uma pilha de 1087 metros (aproximadamente a altura de 12 campos de futebol).
- A riqueza de Elon Musk, de 486 bilhões de dólares, alcançaria 530 quilômetros de altura: o equivalente a 60 montes Everest juntos.
A desigualdade da riqueza é inseparável da desigualdade de renda. Quanto maior a concentração de riqueza pessoal em uma sociedade, maior tende a ser sua desigualdade de renda. O Relatório Mundial sobre a Desigualdade mostra que, desde 1980, a fatia da renda nacional que o 10% mais rico recebe aumentou em quase todos os países. Hoje, o 10% mais rico capta mais de 50% da renda mundial, enquanto o 50% mais pobre recebe apenas 5%.
A Índia oferece um exemplo claro: enquanto sete milhões de seus cidadãos pertencem à elite global, 700 milhões estão entre os mais pobres do mundo. O 1% mais rico da Índia atualmente se apropria de 73% da renda nacional e possui mais de quatro vezes a riqueza dos 70% mais pobres (953 milhões de pessoas). Uma trabalhadora doméstica na Índia precisaria de 22.277 anos para ganhar o que um alto executivo de empresa de tecnologia recebe em apenas um ano.
A desigualdade não é apenas contemporânea, mas profundamente histórica. Um estudo realizado em Florença por dois economistas do Banco da Itália revelou que as famílias mais ricas de hoje são descendentes diretas daquelas que já eram há 600 anos. Do capitalismo mercantil na Itália renascentista, passando pelo capitalismo industrial e agora sob o capital financeiro global, a riqueza permaneceu concentrada nas mesmas linhagens.
Assim, confirma-se a previsão de Marx de 150 anos atrás: o capitalismo leva à concentração e centralização implacáveis da riqueza, especialmente nos meios de produção e nas finanças. Contrariamente às promessas otimistas dos economistas convencionais, a pobreza continua sendo a norma mundial para bilhões de pessoas, enquanto a desigualdade segue se aprofundando mesmo nas economias avançadas, à medida que o capital se acumula em cada vez menos mãos.
Crescimento sem graça: a erosão do nível de vida
Em sua análise mais recente da economia do Reino Unido, o FMI instou o governo a cumprir estritamente suas regras fiscais sobre déficit orçamentário e dívida. Com uma previsão de crescimento de apenas 1,4% ao ano para o restante da década, recomendou aumentar impostos, frear o crescimento das aposentadorias (que já estão entre as mais baixas da Europa), introduzir taxas no Sistema Nacional de Saúde (NHS) (desmantelando assim o sistema de saúde gratuito estabelecido em 1948), ou uma combinação dessas medidas. Também apoiou cortes nos benefícios por invalidez.
O FMI advertiu ainda que, a menos que o governo abandone seu compromisso de não aumentar os impostos sobre os trabalhadores, seriam necessários cortes ainda mais profundos nos serviços públicos. Sugeriu vincular o acesso aos serviços à capacidade de pagamento das pessoas – como coparticipações para cuidados médicos entre aqueles com maiores rendas –, isentando os mais pobres.
Um padrão semelhante é observado no Japão, onde o estancamento persistente desde a década de 1990 se deve a uma forte queda da rentabilidade do investimento produtivo, mais acentuada do que em qualquer outro país do G7. Os sucessivos governos do PLD reduziram drasticamente os benefícios da seguridade social para idosos em 30% em termos reais desde 1995, e o gasto em saúde per capita para maiores de 65 anos caiu quase 20% em três décadas. Ao mesmo tempo, as alíquotas de imposto corporativo foram reduzidas de 50% para 15%. Embora os lucros tenham subido de 8% para 16% do PIB, a arrecadação fiscal caiu de 4% para 2,5%. Em vez de estimular o investimento produtivo, as empresas acumularam capital ou o desviaram para títulos públicos e mercados acionários.
Nos Estados Unidos, o crescimento salarial dos cidadãos comuns desacelerou de forma constante desde a Segunda Guerra Mundial, com uma média anual de apenas 0,9% desde 2008. Ajustados pela inflação, os salários por hora dos trabalhadores manuais permanecem estagnados nos níveis do final da década de 1970, apesar dos enormes avanços de produtividade.
Essa discrepância entre as taxas de crescimento e o nível de vida das pessoas tem suas raízes na natureza mutável do crescimento. Desde a guinada neoliberal da década de 1980, setores improdutivos como finanças, mercado imobiliário e bolsas de valores se expandiram em relação à economia real. Seus ciclos de boom são mal interpretados como prosperidade, mas geram poucas melhorias para a maioria. Em 2023, finanças, seguros, setor imobiliário e serviços de aluguel representaram mais de 20% do PIB dos EUA, enquanto a manufatura caiu para 10% e a agricultura para menos de 1%. O crescimento impulsionado pela especulação e pela busca de lucros de curto prazo é um “crescimento sem alegria”, que oferece pouco alívio aos trabalhadores.
Esse padrão não é exclusivo dos Estados Unidos. Outras economias neoliberais moldadas pelo Consenso de Washington, como a Índia, mostram a mesma contradição: um alto crescimento no papel acompanhado da deterioração das condições sociais.
China, os BRICS e o mito do bloco anti-imperialista
Nos últimos anos, com o declínio do imperialismo ocidental e sua ordem (neo)liberal, junto ao crescimento da China, aumentou a percepção de que alianças como os BRICS poderiam servir como alternativa ao sistema de Bretton Woods e à ordem mundial baseada no Consenso de Washington (OTAN, FMI, Banco Mundial, UE, etc.).
Apesar de algumas reformas simbólicas em suas estruturas de votação e tomada de decisões nas últimas oito décadas, o FMI permanece firmemente sob o controle do G7, deixando a maioria dos demais países praticamente sem voz. Dos 24 assentos no conselho do FMI, EUA, Reino Unido, França, Alemanha, Arábia Saudita, Japão e China ocupam cadeiras individuais, enquanto os EUA mantêm o poder de veto sobre todas as decisões importantes.
No campo econômico, o FMI é conhecido por implementar os “Programas de Ajuste Estrutural”. Os empréstimos a economias em dificuldades são concedidos apenas sob a condição de que os governos reduzam o déficit, cortem gastos públicos, liberalizem o comércio e privatizem setores-chave. De forma semelhante, os critérios do Banco Mundial para conceder empréstimos e ajuda às nações mais pobres se baseiam na ideia neoclássica de que o investimento público existe simplesmente para “estimular” o investimento privado e o desenvolvimento. Assim, seus economistas ignoram deliberadamente o papel do planejamento e do investimento estatal.
Essas instituições representam o núcleo da engrenagem financeira e econômica do imperialismo ocidental, criadas após a Segunda Guerra Mundial para continuar o saque colonial sob novas formas. É desnecessário detalhar como, nas últimas sete ou oito décadas – e especialmente nas últimas três –, as potências ocidentais desencadearam guerras e agressões em região após região, muitas vezes através da OTAN, destruindo nações e cometendo massacres em uma escala sem precedentes na história da humanidade. Essa barbárie econômica e militar só se intensificou à medida que o imperialismo ocidental entrou em declínio.
A implacável opressão e exploração do imperialismo ocidental alimentou, como era de se esperar, um imenso ódio e raiva no Terceiro Mundo. Inevitavelmente, isso levou muitos a buscar alternativas ou aliados entre as potências do Leste. Até 1991, a União Soviética desempenhou principalmente esse papel. No entanto, nas últimas duas décadas, uma tendência crescente em círculos de esquerda tem sido considerar a China – e, em certa medida, a Rússia – como alternativa “anti-imperialista”.
Essa narrativa assume diversas formas. Uma delas é a crença de que a China representa uma força mais progressista que o imperialismo ocidental. Em todo o Sul Global, indivíduos, organizações de esquerda e até facções estatais promovem ativamente essa visão. Da mesma forma, alguns falam de um emergente “Bloco do Leste” de potências anti-imperialistas, incluindo China, Rússia, Irã e várias nações do Terceiro Mundo. Enquanto alguns afirmam que esse bloco já existe, outros apenas expressam o desejo de que exista.
Por outro lado, há quem não veja a China como progressista, mas exagere sua força e influência. Para eles, a China, em suas capacidades econômicas, tecnológicas e militares, já é igual – ou até mais poderosa – que os Estados Unidos, e o imperialismo estadunidense estaria praticamente acabado. Em contraste, outra postura simplista é rotular a economia chinesa como simplesmente “capitalista”, aplicando a dinâmica e as categorias das economias de mercado – e até análises de economistas imperialistas ocidentais – à China, ignorando suas características únicas e peculiares.
O certo, no entanto, é que nas últimas três décadas a China se consolidou como uma importante potência econômica mundial e agora possui um exército moderno e em crescimento. Enquanto isso, o imperialismo ocidental – especialmente os Estados Unidos – encontra-se em fraqueza, declínio e fragmentação históricos. Mas trata-se de um processo contraditório e contínuo, cujo resultado final ainda é incerto.
Consideremos, portanto, a ascensão da China. Em apenas algumas décadas, tornou-se a segunda maior economia do mundo. Em termos populacionais, isso representa o maior crescimento econômico da história da humanidade: uma nação de mais de um bilhão de pessoas que alcançou décadas de expansão ininterrupta sem grandes recessões.
No momento da revolução de 1949, a China estava entre os países mais atrasados do mundo, assolada por pobreza, analfabetismo, ignorância, escravidão e elementos de barbárie. Hoje, é uma sociedade urbanizada, industrializada, alfabetizada e relativamente saudável. Em termos de nível de vida, cultura e desenvolvimento, supera de longe países como Paquistão, Índia e Bangladesh, apesar de todos estarem praticamente no mesmo patamar entre 1947 e 1949.
Desde 1978, o consumo das famílias na China aumentou 1800%. A taxa de alfabetização subiu de apenas 20% em 1949 para 98% atualmente. A expectativa de vida agora é mais alta que nos Estados Unidos. Segundo os padrões do Banco Mundial, a China está prestes a alcançar a categoria de país de “renda alta”.
A participação da China no PIB mundial mal chegava a 2% em 1982; em 2012, já alcançava quase 15%. Em 2010, ultrapassou o Japão e se tornou a segunda maior economia do mundo, e as previsões sugerem que superará os EUA até 2028. No entanto, em termos de paridade de poder de compra (PPC), já se tornou a maior economia mundial, superando os EUA por volta de 2014.
Entre 2002 e 2022, a participação da China no PIB mundial subiu de 8% para 18%, enquanto a dos EUA caiu de quase 20% para 15%. Em 2024, a fatia da China havia alcançado aproximadamente 20%. Portanto, o pânico que toma conta dos imperialistas ocidentais não é infundado: os números falam por si.
Considere o seguinte: apenas entre 2011 e 2013, a China utilizou 6,6 gigatoneladas de concreto, duas gigatoneladas a mais do que os EUA consumiram em todo o século XX. Hoje, a China avança rapidamente em setores de ponta como inteligência artificial, ferrovias de alta velocidade, exploração espacial e robótica, muitas vezes superando os EUA. O verdadeiro objetivo das restrições comerciais estadunidenses não é apenas enfrentar seu déficit comercial, mas impedir que a China se imponha nesses campos tecnológicos, considerados por muito tempo domínio exclusivo do imperialismo estadunidense e ocidental.
Desde o final da década de 1970 até 2018, a economia chinesa cresceu a uma taxa anual média de 9,5%, em comparação com apenas 2,8% da economia mundial. Em outras palavras, durante quarenta anos, a China dobrou o tamanho de sua economia aproximadamente a cada oito anos.
Após a morte de Mao, as reformas de mercado de Deng Xiaoping, a partir de 1978, forneceram um importante salva-vidas ao capitalismo ocidental, permitindo acesso a vastas reservas de mão de obra barata. Mas essa mão de obra não era apenas barata, era também qualificada, disciplinada, saudável e educada. Essa distinção é crucial.
Os imperialistas ocidentais presumiram que a restauração capitalista acabaria transformando a China em um Estado liberal e neoliberal, integrando-a como um parceiro subordinado e obediente, assim como esperavam que acontecesse com a Rússia após o colapso soviético. No entanto, em ambos os casos, essas expectativas se transformaram em pesadelos.
Por quê? A resposta está na história. Tanto a Rússia quanto a China seguiram trajetórias que as diferenciaram das regiões atrasadas e colonizadas do Sul Global. A Revolução Bolchevique de 1917 aboliu o feudalismo e o capitalismo na Rússia, criando uma economia planificada, ainda que posteriormente sob uma forma burocrática e stalinista. De modo semelhante, após 1949, a China adotou grande parte do modelo soviético. Essa história as distinguiu de maneira marcante do sul da Ásia, da África e da América Latina, onde o capitalismo e o colonialismo deixaram cicatrizes mais profundas.
Se mão de obra barata e mercados baratos explicassem sozinhos o sucesso da China após 1978, por que outros países do Terceiro Mundo, com exceção de alguns poucos casos menores, não obtiveram resultados semelhantes? Qual desses dois fatores, por exemplo, falta no Paquistão? Os teóricos do capital não têm uma resposta real para essas perguntas.
O fato é que, apesar das ineficiências e da má gestão burocrática, a propriedade estatal e a economia planejada estabelecidas depois de 1949 realizaram tarefas que o capitalismo não conseguiu cumprir em lugares como o Paquistão: reforma agrária, modernização da agricultura, industrialização em larga escala e avanços tecnológicos. As bases do crescimento posterior a 1978 foram lançadas durante o governo de Mao, incluindo a criação de uma força de trabalho qualificada, alfabetizada e saudável, assim como a construção de uma enorme infraestrutura econômica e social.
Os primeiros Planos Quinquenais, após 1953, foram decisivos. Milhares de fábricas e plantas foram construídas, permitindo que a China alcançasse a autossuficiência na produção de aço, eletricidade, veículos, maquinário e até aeronaves. Na década de 1980, a China ainda era pobre em termos de renda e consumo, assim como Índia, Paquistão e Bangladesh; no entanto, seus indicadores sociais (alfabetização, expectativa de vida e mortalidade infantil) já eram muito superiores — inclusive em comparação com os países do sul da Ásia em 2025.
Deixando de lado as duas últimas décadas, o desenvolvimento anterior da União Soviética superou em muito o da China. Mas ambos os países, graças a esses alicerces, conseguiram manter certo grau de independência em relação ao imperialismo ocidental, apesar dos danos da restauração capitalista.
Dito isso, seus caminhos divergiram profundamente após a década de 1980. Na Rússia, o colapso da URSS destruiu o Estado stalinista. Sob a “terapia de choque”, os ativos estatais foram vendidos em um frenesi de saque, dando origem a uma burguesia corrupta e mafiosa de ex-burocratas e oportunistas. O resultado foi um capitalismo parasitário e autoritário com ambições imperialistas que evocavam o antigo regime czarista. Simbolicamente, a Rússia de Putin restaurou a águia bicéfala czarista com coroa e cruz como emblema estatal. A riqueza nacional passou a ser tratada como propriedade privada, enquanto o próprio Putin acumulou uma fortuna estimada em mais de 200 bilhões de dólares.
No fundo, a Rússia nunca se recuperou totalmente do trauma sociocultural do colapso soviético nem da devastação da terapia de choque. Embora Putin tenha supervisionado certa recuperação em seus primeiros anos, a economia está há muito tempo estagnada e dependente das receitas de petróleo e gás. Essas economias baseadas em recursos primários podem acumular riqueza, mas permanecem estruturalmente frágeis, um exemplo do chamado “mal holandês”.
O caminho da China para a restauração capitalista foi bastante diferente. Fundamentalmente, o Estado stalinista sobreviveu e manteve forte controle sobre a economia. A última onda significativa de privatizações ocorreu no final da década de 1990, quando pequenas indústrias não lucrativas foram vendidas ou fechadas. Os principais setores da economia — bancos, finanças e indústria pesada — permaneceram estatais. Esses setores foram modernizados e integrados ao desenvolvimento nacional. Até hoje, a China é a única grande economia que ainda aplica Planos Quinquenais. A propriedade e o planejamento estatais desempenharam um papel central em seu crescimento — algo raramente reconhecido pelos economistas convencionais.
Mas isso é apenas metade da história. Desde a década de 1990, o setor privado na China se expandiu rapidamente e agora domina mais da metade da economia. Surgiu uma nova burguesia, com mais de 800 bilionários e incontáveis milionários. Paralelamente, proliferaram a corrupção, a desigualdade, a criminalidade, a luta implacável pela sobrevivência e a exploração. O Partido Comunista passou de uma força ideológica e política a uma vasta máquina gerencial que supervisiona e contém a besta do “capitalismo de Estado”.
Embora seja verdade que os principais fatores da economia chinesa ainda estejam em grande parte sob controle estatal, esse sistema contraditório está longe de ser estável. A recente turbulência no mercado de ações e no setor imobiliário, os chamados de Xi Jinping à “prosperidade comum”, as reorganizações burocráticas, as medidas repressivas contra a corrupção — que às vezes afetam até grandes capitalistas e funcionários que desafiam as diretrizes do partido-Estado —, junto com censura e repressão rigorosas, apontam para profundas contradições que poderão se tornar mais visíveis no futuro.
Apesar de seus avanços, a China ainda está muito atrás das economias imperialistas ocidentais em termos per capita. A lacuna é enorme: enquanto o PIB per capita dos EUA gira em torno de 80.000 dólares, o da China é de apenas cerca de 13.000 dólares (e mesmo em termos de paridade do poder de compra, é menos de um terço do dos EUA). Para superar essa situação, a burocracia chinesa está expandindo agressivamente sua influência global e o acesso a recursos; no entanto, alguns pesquisadores argumentam que os recursos necessários para que a China “alcance” os Estados Unidos simplesmente não existem neste planeta.
Em comparação, a chamada “Índia Brilhante” de Modi não passa de uma paródia grotesca. Suas estatísticas de crescimento estão exageradamente infladas, enquanto os benefícios para as massas trabalhadoras são insignificantes. Trata-se de uma forma de crescimento ainda mais distorcida do que a que o Paquistão experimentou sob o regime de Musharraf. A desigualdade disparou a níveis piores do que sob o domínio colonial britânico. Como mencionado anteriormente, por um lado, sete milhões de indianos de classe média alta e ricos estão entre os mais ricos do mundo; por outro, 700 milhões vivem em condições piores do que os africanos mais pobres. Segundo um estudo da empresa indiana de capital de risco Blume, um bilhão de indianos sequer consegue pensar além das necessidades básicas de sobrevivência.
A participação do 10% mais rico na renda nacional da Índia aumentou de 34% em 1990 para mais de 57% atualmente, enquanto os 50% mais pobres viram sua participação cair de 22,5% para apenas 15%. Pode uma sociedade assim se manter estável sem alimentar constantemente a histeria religiosa, superstição e ódio sectário?
Quanto aos BRICS: o grupo original incluía Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, mas agora se expandiu para Egito, Etiópia, Emirados Árabes Unidos, Indonésia, entre outros. No entanto, ao contrário das alianças ocidentais, os BRICS estão longe de ser coesos. A China representa quase 20% da economia mundial, a Índia cerca de 7%, enquanto Rússia, Brasil e África do Sul contribuem apenas com 3%, 2,4% e 0,6%, respectivamente. Portanto, o peso econômico, a influência e os níveis de desenvolvimento diferem significativamente.
Além disso, a maioria dos membros não mantém relações cordiais. A Índia mantém tensões de longa data com a China; persistem contradições entre Rússia e Brasil; o Irã mantém conflitos com países árabes, etc.
Enquanto isso, o imperialismo ocidental continua a dominar não apenas financeiramente, mas também militarmente. O dólar americano ainda é a espinha dorsal das finanças globais: participa de 90% de todas as transações cambiais, 50% do comércio mundial e representa 60% das reservas cambiais. O yuan chinês, apesar de seus avanços recentes, representa apenas 7% das transações globais e 3% das reservas.
Por trás desse domínio do dólar esconde-se um poder militar esmagador. Os Estados Unidos mantêm 750 bases militares em 80 países, enquanto a China possui apenas quatro, sendo apenas a base de Djibuti estrategicamente significativa, embora Pequim planeje expandir-se. O armamento dos EUA continua sendo o mais avançado e Washington gasta pelo menos três vezes mais em defesa do que a China. Apesar da rápida modernização, o exército chinês está atrasado tanto em qualidade quanto em escala, enquanto a Rússia é ainda mais fraca. Por isso, ambos os Estados em grande parte evitam a projeção militar global, focando em suas próprias fronteiras e regiões.
A Rússia mantém 21 importantes bases estrangeiras, principalmente na Ásia Central e Europa Oriental, além da Síria, e recentemente se expandiu para a África, com relatos de bases em Burkina Faso, Mali e Níger. Esses países estiveram até pouco tempo sob intensa dominação francesa, mas golpes de Estado impulsionados pela ira antiimperialista expulsaram as tropas francesas. No entanto, esses novos regimes carecem de programas revolucionários para romper com o capitalismo; ao invés disso, como Maduro na Venezuela, se inclinam para China e Rússia como “alternativas” ao Ocidente. Moscou também enviou seu infame Grupo Wagner por toda a região.
Este é um exemplo evidente de “o inimigo do meu inimigo é meu amigo”. Ainda assim, setores de esquerda equivocadamente apresentam essas alianças como prova das credenciais “antiimperialistas” da China e da Rússia. Na realidade, é pouco mais que uma ilusão.
Historicamente, as burocracias stalinistas da URSS e da China instrumentalizaram sem piedade as lutas antiimperialistas para impulsionar suas próprias agendas de política externa. A realidade atual pode ser ainda mais cínica: embora China e Rússia possam oferecer empréstimos ou ajuda a baixo custo para expandir sua influência, isso não significa que estejam livres de ambições imperialistas. Nada é de graça!
O mesmo ocorre com o Banco de Desenvolvimento dos BRICS, que, comparado ao FMI ou ao Banco Mundial, é insignificante. Os Estados capitalistas que representam cada centavo da “ajuda ao desenvolvimento” não são instituições filantrópicas. Por essas razões, dadas suas contradições internas e a crise mais ampla do capitalismo global, alianças como os BRICS não estão em condições de construir uma nova ordem financeira comparável a Bretton Woods, pelo menos não em um futuro próximo. O declínio das antigas potências imperialistas e a ascensão de novas estão repletos de contradições e, como mostra a história, essas transições podem ser explosivas.
A teoria do imperialismo baseia-se na teoria marxista das crises e do mercado mundial. Os monopólios podem contornar parcialmente a equalização das taxas de lucro impondo preços acima dos preços de produção, assegurando assim lucros monopolistas e evitando temporariamente a queda da taxa de lucro. No entanto, os monopólios permanecem instáveis: podem ser desmantelados por concorrentes mais produtivos e, no mercado mundial, a feroz concorrência entre os capitais dominantes gera sua própria “taxa de lucro monopolista”. Assim, a lei do valor é modificada internacionalmente, pois a tendência a uma taxa média de lucro global é bloqueada pelo capital monopolista concentrado.
Isso produz um desenvolvimento desigual e combinado nas (semi)colônias. Certos setores recebem entradas de capital e se desenvolvem segundo padrões internacionais, enquanto outros estagnam porque os bens necessários precisam ser importados a preços do mercado mundial. Os déficits comerciais e a dívida obrigam esses Estados a desvalorizar suas moedas e, para evitar a inflação, a elevar as taxas de juros, minando a indústria local e impondo medidas de austeridade. O investimento estrangeiro integra-se cada vez mais às (semi)colônias nas cadeias globais de produção, nas quais a maior parte do valor é apropriada pelos monopólios dos centros imperialistas.
As taxas de lucro ainda diferem significativamente entre os países imperialistas e as semicolônias. Mesmo nas semicolônias mais avançadas ou exportadoras de matérias-primas, o intercâmbio desigual opera por meio da exportação de capital, impulsionando um desenvolvimento distorcido e desigual. Seguindo Lenin, a exportação de capital continua sendo o mecanismo-chave pelo qual os centros imperialistas obtêm superlucros.
Lenin acrescenta ainda uma dimensão política: a divisão monopolista da economia mundial sustenta um sistema de grandes potências que dividem politicamente o planeta. O domínio econômico não determina mecanicamente essa estrutura; as mudanças no peso econômico dos monopólios e dos Estados chocam-se regularmente com as hegemonias existentes. Essas contradições geram conflitos e, potencialmente, guerras, conduzindo a novas divisões do mundo, caso o capitalismo sobreviva à crise global resultante.
Capitalismo bom ou socialismo?
A natureza inerentemente instável e repleta de crises do capitalismo é inegável. Desde a crise de 2008, nem mesmo os defensores mais ferrenhos do sistema podem ignorá-la. No entanto, confinados aos limites da ideologia capitalista, não podem — ou não querem — enxergar além de suas limitações. Muitos justificam e protegem conscientemente essa ordem defeituosa e exploradora simplesmente porque dela dependem.
Como Marx escreveu em diversas ocasiões, a crise capitalista é uma expressão necessária da lei fundamental do desenvolvimento capitalista: que o desenvolvimento do capital choca-se constantemente com limites (TDTG, sobreacumulação) inerentes ao próprio capital, e que só podem ser superados por meio da destruição massiva de capital, criando uma expansão do capital em um novo e mais amplo patamar. Isso significa que, em cada ciclo, entre os períodos de crise, o capital desenvolve as forças produtivas a um nível superior, a acumulação de capital avança em nova quantidade e qualidade, o capital se concentra ainda mais etc. Isso também significa que, a cada vez que essa crise sistêmica se aprofunda, ela se torna mais danosa para toda a sociedade. Nesse sentido, não há um colapso automático, apenas a crescente necessidade de sair dessa “economia da ruína”.
O reformismo, seja disfarçado de socialismo, antiimperialismo ou comunismo, sofre das mesmas limitações. Sua incapacidade de romper com as relações de produção existentes se manifesta em variantes de esquerda e direita, cada uma oferecendo desculpas para os repetidos colapsos do sistema. Os reformistas geralmente argumentam que o capitalismo em si não é o problema, mas sim que ele é mal administrado; que, com algumas correções ou medidas equilibradas, pode funcionar de forma “justa”.
Já vimos como o neoliberalismo não foi mais do que um vasto projeto imperialista para enfrentar a crise histórica do capitalismo, com consequências catastróficas para a maioria da humanidade. Ainda assim, muitos, especialmente as correntes reformistas de esquerda e setores da aristocracia sindical, ainda sonham em retornar ao chamado “bom capitalismo” das décadas do pós-guerra. Suas receitas para um capitalismo “humano” geralmente incluem reestruturação da dívida, medidas antimonopólio e anticorrupção, impostos progressivos, sindicatos mais fortes ou outras variantes do “capitalismo gerenciado”.
Mas essa perspectiva se baseia em uma falácia: que a idade de ouro do pós-guerra foi criada por governos esclarecidos com “boas intenções” e políticas “favoráveis à cidadania”. Na realidade, o boom do pós-guerra não foi resultado de uma gestão benevolente, mas de taxas de lucro historicamente altas. Esses lucros permitiram reformas e acordos de classe temporários. Além disso, a burguesia dos países capitalistas avançados fez concessões em grande parte por medo: medo da revolução interna e do stalinismo no exterior.
Uma vez que essas condições objetivas desapareceram, o consenso desmoronou rapidamente. Os reformistas não conseguem explicar por que essa “era dourada” colapsou em apenas uma ou duas décadas, porque não compreendem as contradições internas do capitalismo. O que denunciam como causas da crise — monopolização, dívida, desregulação, privatização, repressão sindical, isenções fiscais para os ricos etc. — não são acidentes nem decisões maliciosas, mas resultados necessários de um sistema estrangulado pela crise de rentabilidade. Em resumo, todo reformismo atual se vê obrigado a examinar atentamente políticas para restaurar, ou pelo menos amortecer, os lucros capitalistas. A política do reformismo de esquerda, portanto, carece de qualquer base econômica real, um fato refletido nos repetidos fracassos de regimes reformistas tradicionais e populistas em todo o mundo.
Marx, mesmo jovem, tinha clareza de que as contradições do capitalismo não podem ser resolvidas dentro do capitalismo. Se a humanidade permanecer presa a um sistema movido pela propriedade privada e pelo lucro, inevitavelmente cairá na barbárie ou, pior ainda, desaparecerá por completo. A produção de mercadorias deve ser substituída pela produção para atender às necessidades, baseada na propriedade pública dos meios de produção e no planejamento econômico democrático. Só o socialismo pode acabar com a absurda contradição de “pobreza na abundância” e “abundância na pobreza”.
Desde 1820, o PIB mundial aumentou de aproximadamente 1,63 trilhão de dólares para mais de 166 trilhões em 2023, um incremento de mais de 10.000%, ou aproximadamente cem vezes. Esse crescimento assombroso reflete o imenso desenvolvimento das forças produtivas sob o capitalismo. A humanidade hoje possui níveis de riqueza e capacidade tecnológica inimagináveis para gerações anteriores.
No entanto, apesar desse avanço histórico, bilhões de pessoas continuam presas à miséria e à necessidade. Mesmo na sociedade capitalista avançada, a luta diária pela sobrevivência se torna mais dura a cada dia e as contradições entre as pessoas se acentuam cada vez mais. Os trabalhadores de hoje estão mais indefesos e oprimidos diante do capital do que em qualquer outro momento da história.
Mas a humanidade já possui as forças produtivas que, se organizadas racionalmente, poderiam transformar o mundo em questão de décadas. Com um planejamento global sob controle democrático dos trabalhadores, poderíamos multiplicar o crescimento econômico, eliminar desemprego, pobreza, analfabetismo, falta de moradia e doenças preveníveis em questão de anos, ao mesmo tempo em que reduzimos a jornada de trabalho e protegemos o meio ambiente. Um socialismo maduro em escala global acabaria com a luta diária pela sobrevivência, criando uma sociedade de abundância, prosperidade e harmonia. Libertada dos grilhões do lucro, a humanidade poderia dedicar suas energias à exploração e domínio da natureza e, em última instância, do próprio universo.
Aprovado pelo III Congresso Mundial da LIS




