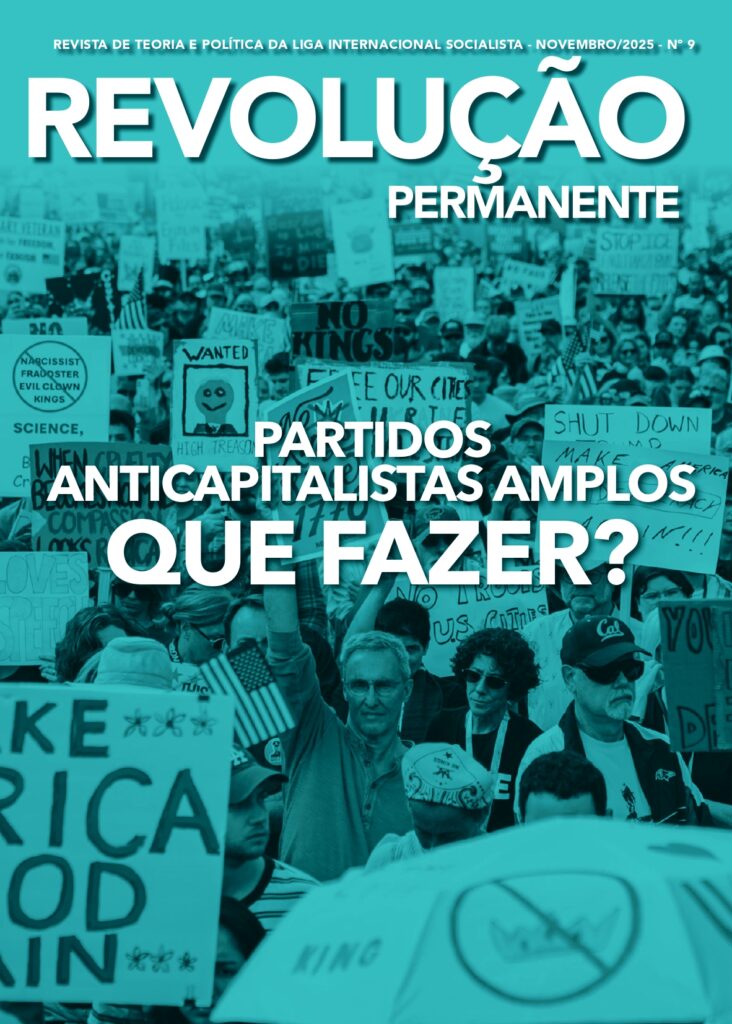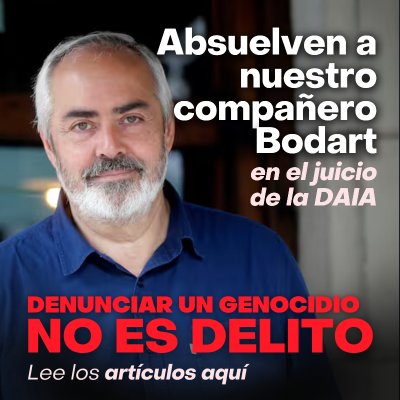Traduzido automaticamente com inteligência artificial.
Por Martin Fuentes
Em janeiro de 2015, a coalizão de esquerda Syriza chegou ao poder na Grécia e, pela primeira vez na Europa, um governo propôs rejeitar os planos de austeridade da Troika (Comissão da União Europeia, Banco Central Europeu, FMI). O entusiasmo gerado pelo espaço liderado por Alexis Tsipras cresceu tão rapidamente quanto recuou, porque a liderança do Syriza acabou virando as costas para a vontade popular que rejeitou o ajuste e finalmente cedeu às pressões do imperialismo, frustrando assim uma das maiores oportunidades para a esquerda na história recente.
Quase dez anos depois, uma das principais figuras do gabinete de Tsipras recuperou popularidade. O ex-ministro da Fazenda Yanis Varoufakis conseguiu colocar em evidência um conceito marcante: o tecnofeudalismo. Com uma série de declarações extravagantes, ele propõe que (mesmo que tenhamos dificuldade em aceitá-lo) não vivemos mais em uma sociedade dominada pela burguesia capitalista clássica. Estamos diante de um novo sistema dominado por “nubelistas”, que seriam versões contemporâneas dos senhores feudais, mas que derivam seu poder do controle de dados e big techs.
Neologismos como hipercapitalismo, capitalismo de plataforma ou capitalismo rentista não são suficientes para descrever o fenômeno atual, segundo Varoufakis. As mudanças que estamos testemunhando são tão drásticas que só podem ser entendidas aceitando que um novo modo de produção está em ação no presente.
Não há dúvida de que as últimas décadas foram marcadas por profundas mudanças. Desde a crise de 2008, o capitalismo sofreu mutação, aprofundando seus traços mais reacionários, mas ao mesmo tempo provocando mobilizações massivas em todo o planeta. Diante de tudo isso, é legítimo nos perguntarmos Qual é o lugar da tecnologia atual na dominação de classe, como entender os tempos modernos a partir de uma perspectiva marxista e se Varoufakis está certo em sua resposta a todos esses debates.
O que é Tecno-feudalismo?
Mais de um concordaria que estamos trancados em uma distopia, onde as novas tecnologias estão nos aprisionando cada vez mais. Desde a época de Marx, o efeito paradoxal segundo o qual “as máquinas assumem características humanas e os humanos assumem características de máquina” foi claramente estabelecido. No entanto, estaríamos errados em acreditar que nada mudou desde então. Mas que inovações em nosso tempo e que cópias do antigo.
O raciocínio de Varoufakis se inclina para a segunda opção, ele vê o futuro repetindo o passado, mas em um grau terrivelmente drástico e ao mesmo tempo desconcertante. O economista chega a levantar a hipótese de que “o capitalismo está desaparecendo”, mesmo que muitos se apeguem a esse termo que agora desapareceu, como era o caso do feudalismo na época da ascensão do capitalismo.
Ele prossegue explicando que, assim como a burguesia emergente foi capaz de coexistir com os senhores feudais, uma nova classe em ascensão agora se distingue da burguesia capitalista tradicional. Ele os chama de “nubelistas”, porque eles conseguiram consolidar seu poder e subjugar tanto seus concorrentes atrasados, os capitalistas, quanto a nova força de trabalho, o proletariado nubelista, graças ao uso de novas tecnologias e dados armazenados na”nuvem”.
No início de seu texto, ele propõe uma primeira definição:”foram substituídos os dois pilares em que se baseava o capitalismo: os mercados, por plataformas digitais que são os verdadeiros redutos das big tech; o lucro, pela pura e simples extração de aluguéis”.
O erro inicial é que o economista considera como novo modo de produção o que na verdade é o capitalismo em sua fase mais reacionária. Elon Musk, Jeff Bezos ou Mark Zuckerberg representam capital concentrado, dotado de novos mecanismos de superexploração e depredação do meio ambiente. Embora tenham vantagem sobre seus tradicionais concorrentes burgueses, ainda estão presentes em setores industriais clássicos como a fabricação de carros, no caso de Musk com a Tesla, ou a produção de roupas, produtos alimentícios e cuidados pessoais, no caso de Bezos com marcas próprias da Amazon.

Novas tecnologias, nova exploração?
Para o ex-ministro Varoufakis, a reconfiguração econômica citada acima abre caminho para uma reconfiguração social. Novas classes sociais estão emergindo do novo modo de produção. Os proletários da nuvem seriam a extensão do proletariado clássico, mas não mais sujeitos à organização Taylorista do trabalho, mas ao “capital da nuvem”, que acelera o ritmo da produção. Os Cloud serfs seriam uma categoria ainda mais diferente das classes anteriores. Segundo o autor, Os servos seriam uma classe que “escolhe a opressão”, pois são os setores de Usuários das redes sociais que “produzem” conteúdo para as plataformas sem remuneração.
O problema aqui é que Varoufakis não distingue precisamente o que diferencia o “proletariado das nuvens” do proletariado clássico. Hoje assistimos a um ressurgimento da exploração dos trabalhadores das plataformas, mas há uma continuidade da dependência das empresas, que eufemisticamente chamam os salários de “pagamento por serviços”, como nos apps. Por sua vez, os “servos da nuvem” continuam sendo trabalhadores que consomem um serviço de entretenimento e cujo sustento continua dependendo de seu trabalho, de modo que não se pode dizer que escapem da definição de classe trabalhadora.
Internet: a promessa que não foi cumprida
A recapitulação de Varoufakis da história da Internet é interessante. No contexto da Guerra Fria, a Internet aparece como uma antinomia por ser uma “rede de computadores não comercial, construída e de propriedade do governo americano, que estava fora dos mercados e imperativos capitalistas, mas cujo objetivo era a defesa do mundo capitalista”.
Foi em decorrência desse curioso acontecimento que surgiu a “Internet One” (a internet “original”), da qual restaram apenas vestígios ao longo dos anos. A partir de 1970, o capital financeiro passou a se interessar por novas tecnologias a fim de maximizar seus lucros. A fusão das finanças e da web está se intensificando a tal ponto que, em 1980, os algoritmos estão tão confusos que escapam da compreensão de seus próprios criadores.
Após a queda do Muro de Berlim, os Estados Unidos buscaram consolidar sua hegemonia mundial propagandeando o fracasso do “socialismo”. O imperialismo prometia uma nova ordem democrática, na qual a internet era apresentada como uma ferramenta para conectar o mundo e trocar conhecimento em tempo recorde.
No entanto, ao saltar para o presente, a análise de Varoufakis destaca a forma como a Internet e as novas tecnologias acabaram fortalecendo os mecanismos de opressão das maiorias. O que aconteceu nesse meio tempo? Podemos elencar diferentes motivos, mas um deles, destacado pelo autor, é o fenômeno dos recintos. Tomando o exemplo da privatização da terra na Europa durante a “acumulação original” capitalista, o autor se refere à apropriação pelos empresários dos “Comuns” da internet que acabaram moldando o modelo em que navegamos hoje.
Uma breve descrição desse caminho permite constatar que as novas tecnologias, atualmente nas mãos das principais empresas capitalistas, têm sua origem no planejamento estatal e têm representado, muitas vezes, uma oportunidade de democratização da informação e da comunicação. No entanto, a livre colaboração entre usuários foi gradativamente substituída pela mercantilização de um serviço em mãos privadas, dando origem ao cenário que conhecemos hoje.
Rendimentos e lucros
É claro que as grandes mudanças ocorridas após a crise de 2008 deixaram um mundo muito diferente. Varoufakis insiste na necessidade de uma “nova narrativa” que explique a nossa realidade. Ele afirma que o ressurgimento dos aspectos econômicos característicos do feudalismo implicou no deslocamento do lucro pelo “lucro” ou aluguel. Como os senhores feudais de outrora, a classe dominante nubelista não busca mais inovação tecnológica ou investimento para competir com seus pares. Agora o livre mercado está se tornando uma velha fantasia e seu lugar está sendo tomado por “feudos na nuvem”. Em sua proposta, outro dos pontos de ruptura na transição de um sistema para outro foi a pandemia, quando os bancos centrais dos Estados nacionais injetaram grandes somas de dinheiro para salvar as empresas, mas estas, longe de investir em mais produção, continuaram a financiar a nuvem. O resultado seria o início da “era do capital da nuvem”.
Assim explicado, ele pode ter sentido a declaração sobre” o fim do capitalismo”, à qual Varoufakis subscreve. Mas a renda deve ser pensada em relação à acumulação capitalista para determinar seu caráter feudal ou capitalista.
É Duncan Foley quem, seguindo Marx, explica que “essas rendas fazem parte do conjunto da mais-valia gerada na produção capitalista, embora em si mesmas não estejam diretamente ligadas à exploração do trabalho produtivo” (Foley, 2013, citado em Morozov, 2022). Além disso, dada a ligação dos “nubelistas” com as indústrias produtivas tradicionais, torna-se evidente a relevância do trabalho humano em condições de exploração, pois é a única fonte de extração de mais-valia, da qual deriva o caráter capitalista da renda.
Mesmo assim, a proposta de Varoufakis em relação ao conforto em repouso em que os alpinistas vivem nas nuvens não é totalmente respondida, sem a necessidade de fazer grandes investimentos ou de “levantar um dedo”. Mas a realidade contraria o economista, há uma série de exemplos que demonstram a preocupação dos grandes empresários das novas tecnologias em sustentar os investimentos. Por exemplo, a Alphabet gastou de 2017 a 2020 us $91,5 milhões em P&D, A Amazon fez o mesmo em 2020, gastando US $42,7 milhões em pesquisa e desenvolvimento (Morozov, 2022).
“Servilismo à burguesia disfarçado de “análise econômica””
A reconfiguração do panorama mundial após a Primeira Guerra Mundial e a Revolução Russa abriu um período de intensos debates no marxismo. Neste contexto, Lenin censurou Kautsky em 1918 que ” (…) faz inversão de marcha e, pretendendo fazer uma “análise econômica”, agora advoga, com frases nobres sobre o “materialismo histórico”, a subordinação dos trabalhadores à burguesia, repetindo categoricamente, baseando-se em citações do menchevique Maslov, as velhas concepções liberais dos mencheviques.”(Lenin, 2007, p. 81)
Qualquer semelhança com o presente não é mera coincidência. Começamos comentando o papel traiçoeiro dos líderes europeus de centro-esquerda nos últimos anos. Sem dúvida, foram responsáveis pela frustração que antecipou a ascensão da ultradireita, que hoje conta com o poder de um grande capital tecnológico. Varoufakis, ao analisar, justifica seu “servilismo crônico à burguesia” e sugere vários mecanismos reformistas e medidas de democratização institucional, mas sem mencionar a palavra revolução.
Com uma nostalgia keynesiana pelo welfare state, ele confessa no final sua proposta interclassista ao declarar que “para ter uma chance de derrubar o tecnofeudalismo e para que o demos retorne à democracia, é necessário reunir não apenas o proletariado tradicional e o proletariado das nuvens, mas os servos da nuvem e, além disso, pelo menos alguns capitalistas vassalos”.
Essa aliança com os “capitalistas vassalos” Espana as velhas e ultrapassadas fórmulas de subordinação à burguesia. Esse é mais um aspecto da renovada tentativa da social-Democracia de formar “frentes populares” e variantes para barrar a ultradireita, que longe de lutar, acabam se fortalecendo.
Apesar da popularidade do texto de Varoufakis, é preciso nos perguntar em que medida sua divulgação responde a um fenômeno editorial e em que medida à clareza de seus conceitos. O ex-ministro da economia está ciente da polêmica de suas declarações, no entanto, também não se preocupa em dar explicações muito minuciosas. Podemos pensar que basicamente o que ele busca é postular conceitos disruptivos, mas sem bases sólidas.
Se é inegável que o capitalismo não é mais como as gerações anteriores o conheciam e que a tecnologia desempenha um papel importante na mutação atual, o impressionismo da pequena burguesia intelectual não alcança uma atualização real da teoria marxista. Pelo contrário, apoia os armários nas conclusões fundamentais. Desde a época de Marx, ficou claro que o problema não são as máquinas em si, mas nas mãos de qual classe está o controle.
É tarefa de todos os revolucionários analisar e debater novos fenômenos tecnológicos com rigor e paciência. Devemos entendê-los como campos de protesto complementares à luta estratégica, que é a luta de classes e a construção de um partido revolucionário, para intervir na batalha de ideias e na luta pelo socialismo.
Referências bibliográficas
Morozov, L. (2022). Crítica da razão Tecno-feudal. New Left review 133/134, P. 99-142.
Lenin, VI (2007). A revolução proletária e o renegado Kautsky. A Fundação Fr Psord Psorric Engels.
Varoufakis renuncia para “facilitar as negociações” com a UE. O país (06/07/2015).
Varoufakis, Y. (2024). Tecno-feudalismo. O sucessor furtivo do capitalismo. Deusto.